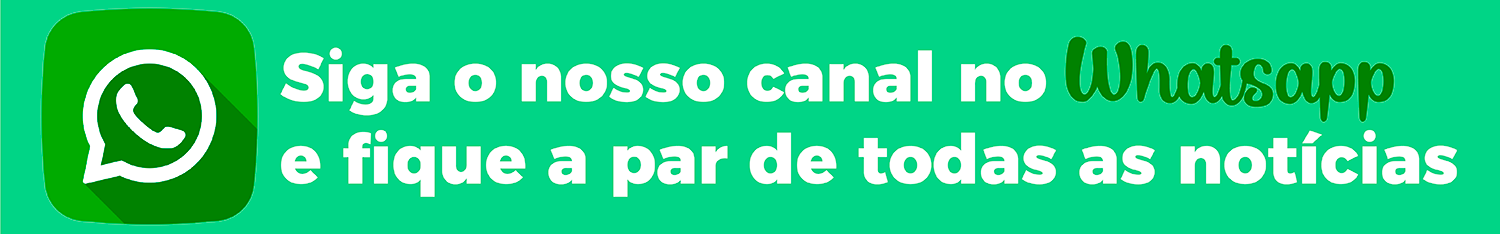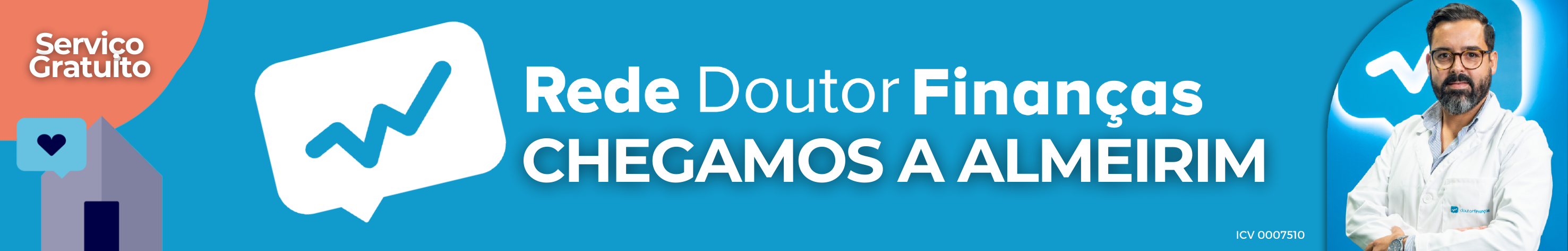Em simultâneo com a ocupação de diferentes cidades no litoral Norte marroquino, e suas razões aqui referidas em crónicas anteriores, outras navegações sucediam, a que chamamos de Descobrimentos, a caminho do Sul Atlântico e ao longo da costa ocidental africana.
Tais navegações e o domínio de diferentes territórios, levaram ao que chamamos de “Expansão Marítima portuguesa”, dinamizada pelo príncipe infante D. Henrique, referido como algo estudado na sua Escola de Sagres, nada mais que um local informal de reunião e intercâmbio de conhecimentos entre exploradores, navegadores, cientistas e cartógrafos, nacionais como estrangeiros, cujo objetivo principal [CA1] foi o desenvolvimento de técnicas de navegação em alto mar, aprimoramento de embarcações e estudos astronômicos, entre as décadas 20 e 50 do século XV. Enquanto Governador da Ordem de Cristo, o Infante canalizava os recursos da Ordem na exploração do oceano Atlântico, passando as velas dos navios a usar a Cruz de Cristo.
Mas cedo chegava a primeira desilusão, devido ao desaparecimento de embarcações que tentavam contornar um cabo situado um pouco ao Sul da costa marroquina junto ao arquipélago das Canárias, o ponto mais meridional de África conhecido até à época. Estes desaparecimentos levaram ao mito da existência de monstros marinhos e da intransponibilidade do Bojador, que ficou conhecido como o Cabo do Medo. Duas décadas depois e após várias tentativas falhadas, Gil Eanes com a sua barca de um só mastro, movida a remos, contornará, em 1434, aquele cabo e verificará tratar-se de um longo recife de arestas pontiagudas, de mais de 20 km em alto mar, com um fundo de apenas dois metros, julga-se devido ao assoreamento provocado por milhares de anos de tempestades de areia sopradas pelo deserto do Saara. Esta passagem do Cabo Bojador, será um dos marcos mais importantes da navegação, pois irá permitir aos portugueses entrar em mares e arribar a costas até então desconhecidos, enfrentando inúmeros perigos, num novo tipo de embarcação, a caravela.
D. Duarte, rei desde 1433, vai dar continuidade à política de incentivo de exploração marítima e de conquistas em África. Logo que passado o Bojador entregará ao irmão Henrique um quinto de todos os proveitos comerciais com as zonas descobertas, bem como o direito de explorar além do Cabo agora vencido. Iniciar-se-á agora a grande aventura transatlântica.
Abordemos hoje apenas a viagem, deixando para uma próxima edição, as terras e as gentes contactadas. Não deixarei, contudo, de referir que se estavam as dificuldades de navegação nas águas do “Cabo do Medo” resolvidas, mantinham-se os seus sustos, agora mais a Sul, nos domínios oceânicos do horrendo “Mostrengo”. E nestes domínios continuavam a existir os “monstros marinhos”, coisa terrível sempre à espreita dos navegadores. E não era caso para menos, pois a duração que implicava, os perigos e sobressaltos que envolviam e os medos que suscitavam, conduziam inevitavelmente estes homens a uma maior aproximação da prática religiosa. Para todos eles, o mundo, principalmente o mar, era um território incerto e os seus supostos limites inflamavam a sua fantasia e os seus actos. Um provérbio da época confirma-o: “Se queres aprender a orar, entra no mar”.
A mentalidade do homem de então, os sustos constantes, a presença assídua do capelão embarcado, bem como a legislação da coroa sobre o assunto, fizeram com que um cunho de religiosidade estivesse sempre presente nestas viagens. E essa religiosidade, a cumprir, possuía normas no Regimento dos navios que deixavam Lisboa.
Vejamos o Regimento da Nau São Pantaleão, mais de um século depois, quando partiu para a Índia em 1592. Perante os perigos que poderia correr, o seu Regimento obrigava todos os viajantes a confessar-se antes de embarcar, sob pena de não receberem a ração alimentar. Já embarcados, tal regulamento assim mandava proceder: «… diariamente à recitação da Salvé Regina; aos Domingos, à missa dominical; ao Sábado, à Salvé dos marinheiros, cerimónia em honra da Virgem Maria; às quartas e sextas-feiras, ao pôr-do-sol, o capelão devia promover o canto da ladainha de Todos-os-Santos». Todas as noites, com um sinal de apito, lembrava-se aos marinheiros a recitação de um Padre-nosso e de uma Ave-Maria. Em alturas de tempestade ou de calamidade, deveriam ser providenciadas pequenas procissões no convés, invocando a misericórdia de Deus. As missas ocupavam lugar de destaque, sendo celebradas aos domingos, dias santos ou como Acção de Graças, após qualquer aflição, ou após ultrapassadas zonas de grande perigo. Eram rezadas junto à proa ou à popa, onde se colocava um altar. Nestas missas o vinho encontrava-se ausente da celebração do ofertório, porque proibido após o Concílio de Trento (1545-1563). Não se corria assim o risco de derramar o “sangue de Cristo”, devido à ondulação do mar. Ficaram conhecidas por “missas secas”.
Nesses longos dias passados no alto mar, oscilando para cá e para lá, entre tempestades e incertezas, acrescido de doenças e promiscuidade, também existiram dias de bonanças e calmarias. Estes períodos eram muitos e monótonos, pelo que havia que quebrá-los, não só como forma de passar o tempo, mas também contribuindo para a sua saúde mental qual profilaxia ao pesadelo. Tudo teria então servido para entreter nas tais calmarias: a música, o canto, o contar histórias, a leitura, os jogos de cartas e dados, o teatro, geralmente de cariz religioso num cenário de cabos e velas. Recreações diversas e movimentadas existiam como “as touradas de convés”, o jogo da “mão quente” e o “baptismo da linha”. A “tourada de convés” nada mais era do que alguém, que coberto de pano preto e fingindo-se de touro, corria de um lado para outro às marradas. Apareciam sempre voluntários a toureiro, que por entre gritos, berros e aclamações, agitavam pedaços de pano a fingir de capa, provocando aplausos, assobios, apupos e gargalhadas. Por vezes, não era um homem que fazia de touro, mas sim algum grande peixe, geralmente tintureiras ou tubarões. Tiravam-lhes os olhos e lançavam-nos no convés. Como o animal estrebuchava aos saltos, aproveitavam a agitação para fingirem que o toureavam sem, contudo, se aproximarem em demasia «com receo de seus dentes tam afiados, igoais e talhantes como se focem navalhas». O jogo da “mão quente” certificava o mais resistente, que voluntariamente se encostava ao mastro maior recebendo um grande número de bofetões, coisa em que, geralmente, os marinheiros são considerados especialistas. O divertimento mais apreciado e que dava gozo a toda a tripulação era o “baptismo da linha”, posto em prática quando se cruzava a linha do Equador. Consistia numa marcha pelo convés de um grupo da tripulação liberto das tarefas e já anteriormente “baptizado”, que vestidos da forma mais grotesca que pudessem, a fim de divertirem e fazerem rir, circulavam cantando e dançando em fila, após o que se sentavam à volta de uma grande tina com água. Todos quantos ainda não haviam passado a linha, marinheiros e graduados, tinham que mergulhar nela. Estes novatos no passar da “linha do Equador” podiam eximir-se ao banho, mediante oferta de algumas garrafas de aguardente ou um punhado de moedas.
[Bibgª: R. Alleau, J. Serrão, L. de Albuquerque, T. de Matos, J. Merrien. Por decisão pessoal, o autor não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico].
Cândido de Azevedo